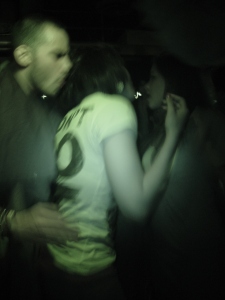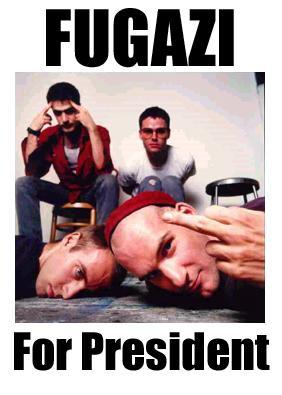já que falei do shellac, aproveito para publicar aqui a entrevista que fiz com steve albini em outubro, a pedido da +soma, por ocasião dos 20 anos do primeiro show do fugazi. na revista ficou bem mais bonito, mas como ela não circula pelo brasil inteiro, o writer’s cut tá aqui pra quem quiser. as fotos do albini são da jana, as do show do shellac são minhas. as do fugazi, como não tenho nenhuma, emprestei do grande glen e. friedman. aliás, ele tá lançando “O” livro de fotos do fugazi. imperdível.
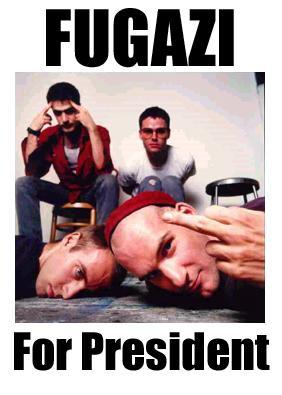
É uma sequência de portas iguais ao lado de prédios também iguais na Belmont Avenue, zona norte de Chicago. Do lado de fora, não há nenhum sinal visível do lugar que procuramos, e os números estão escondidos por marquises de uma reforma em andamento. O vento cortante da fria tarde de outono não deixa espaço para indecisão. É descer do carro, procurar o número na parede, tocar a campainha e torcer para abrirem logo a porta. A voz metalizada no interfone demora um pouco mais do que gostaríamos para se decidir. Preso à porta, apenas um E estilizado anuncia, discretamente, que estamos nos limites do Electrical Audio, mítico estúdio e quartel general de Steve Albini. A maioria das pessoas o conhece como o homem por trás de discos clássicos de Nirvana, Pixies, PJ Harvey, Breeders e outros, mas o posto que ele ocupa na mitologia musical mundial é um tanto mais complexo. De líder da extinta Big Black, ícone proto-industrial, a sumo-sacerdote do analógico, Albini se manteve um provocador de humor implacável, um nerd de dedicação tibetana, um ativista ferrenho do faça-você-mesmo, um figurão que rejeita solenemente se comportar como tal, nos atentendo pessoalmente pelo telefone e marcando a entrevista para “quando quisermos”. Um punk, no melhor sentido que o termo pode carregar.

Ele nos recebe com um breve aperto de mão e já nos conduz à sala, onde uma imensa mesa de bilhar divide espaço com um sofá grande, mas apenas suficientemente confortável. Nas paredes, estantes repletas de livros, quadrinhos, zines, dvds e fitas vhs. Uma TV de tela plana está acoplada a um aparelho TiVo, novo xodó de Albini: “Gravo tudo o que quero ver e assisto depois, pulando os comerciais. Minha vida agora se tornou virtualmente livre de propaganda (risos).” Estamos ali para conversar sobre os 20 anos do primeiro show do Fugazi, e embora ele emende um “não fui a esse show, viu?”, é uma das pessoas mais indicadas a falar do assunto. Mas a entrevista logo se amplia para tópicos como download ilegal de música, rumos da indústria musical, produção de bandas independentes, história, geopolítica, tecnicismo e sobre o trabalho do próprio Albini. Uma hora reveladora em sua acidez, originalidade e franqueza – ainda que isso signifique esbarrar em contradições -, encerrada com uma boa notícia aos brasileiros: se tudo der certo, Albini deve tocar com o Shellac no país em março (rumor confirmado aqui).



* * *
Como você avalia o papel do Fugazi na música mundial?
O mais significativo a respeito do Fugazi para mim é que eles demonstraram ser possível reproduzir, em escala muito grande, exatamente tudo que você faria em escala muito pequena. Por exemplo, se você vai fazer um show informal na sua casa, vai querer chamar todos os amigos que puder. Não faz sentido dizer algo como “só pessoas acima de 18 anos podem vir à festa”, não é? Você basicamente convida quem quer, e todos podem vir. Você também não vai querer fazer algo muito caro, porque não quer limitar as coisas dizendo “só quem puder pagar 20 dólares por um ingresso é bem-vindo”, você quer que todos sejam bem-vindos. E, à medida que a escala dos shows, as vendas de discos e todo o resto foram crescendo, era muito gratificante ver que o Fugazi conseguiu conduzir as coisas exatamente da mesma forma. É quase como um artista que estabelece regras de combate para si próprio, como “só vou pintar com tinta azul”, e ver até onde ele chega usando só tinta azul. Quando eles começaram, faziam pequenos shows sem divulgação, tocando casualmente. Não tinham discos, nada, só queriam tocar e ser uma banda. As coisas funcionaram ali. Depois eles começaram a lançar discos, tornaram-se um pouco mais conhecidos, e passaram a tocar em shows maiores. Também funcionou ali. E então eles se tornaram muito populares, tocando para milhares de pessoas, e deu certo ali também. Demonstraram que funciona em todos os níveis, você pode controlar sua existência, não precisa fazer parte do grande jogo econômico ou da burocracia administrativa do mercado musical. Não precisa fazer parte de nada, pode fazer tudo você mesmo.
Eu acho realmente fantástico eles terem levado tão longe esse conceito de fazer as coisas em pequena escala, fazer tudo de forma independente, controlar o destino da banda sem envolver outras pessoas. Eles não tinham manager, não tinham produtor de shows, não tinham advogado, tinham que fazer seus próprios contratos. Faziam tudo em um nível básico entre indivíduos. Foi um exemplo para mim, e minha banda se comporta dessa forma por causa dos exemplos do Fugazi.


Você acha que tem muita gente seguindo o exemplo deles hoje em dia?
Com certeza. E hoje é muito mais fácil do que quando eles começaram, porque há outras ferramentas disponíveis. Você pode distribuir sua música eletronicamente, pela internet – em muitos casos, nem é preciso produzir cds ou lps. Também não precisa de uma pessoa num escritório em outro país para administrar seus negócios por lá. É muito mais fácil agora, mas bandas como o Fugazi ou o (grupo holandês) The Ex foram grandes exemplos. Eles demonstraram que, se você assume o controle da sua existência, nunca vai precisar reclamar de nada, porque não será forçado a nada. Só fará algo se considerar boa idéia. Quando uma banda se envolve em uma carreira profissional no mercado musical, sempre haverá motivo para reclamação – “Ah, temos que fazer tal coisa, porque somos obrigados” -, mas, quando você dirige os rumos da sua banda, nunca terá do que se desculpar, nunca terá que fazer algo que não queira. E talvez não tenha nenhuma outra obrigação real. Se você assinou um contrato que o obriga a entregar um disco até certa data, você tem que fazer isso. Mas se você não tem um relacionamento desse tipo com uma gravadora, se ela te diz “quando você entregar, tá valendo”, você está totalmente livre para decidir sua vida.
Agora, com o “roubo” da música integrado ao cotidiano do consumo, a tendência parece ser o surgimento de contratos cada vez mais abusivos para as bandas novas.
Eu acho completamente ridícula a idéia de que é possível roubar uma música. Se você está parado em algum lugar e ouve uma música, está ouvindo de graça. Música é algo gratuito. Ian MacKaye fez essa observação durante um show uma vez: a música, em si, é gratuita. O som que você ouve, isso é de graça. O que custa dinheiro são objetos físicos, como um cd, um disco, um ingresso de show. Mas a música sempre foi gratuita. A idéia de que, se alguém remove o suporte físico da música, esse alguém está roubando, e que, logo, é preciso inventar uma forma de cobrar por isso, é imbecil e insana. Quando as gravadoras e outras pessoas dizem “queremos apenas preservar a economia sustentada pela música”, o que eles estão dizendo na verdade é “agora queremos finalmente cobrar pela última coisa que você tinha de graça, depois de cobrar pelos discos, pelas camisetas, pelos ingressos”.
Quanto aos contratos, se uma banda concorda em dar parte do cachê ou qualquer outra coisa, ela merece qualquer desgraça que venha depois. Porque está na cara que é ridículo. A única coisa que uma gravadora pode fazer é vender discos. Se eles dizem que podem fazer algo mais, sei lá, “vamos torná-los mais famosos”, aí você responde “beleza, então só faremos negócio com vocês para o disco. A parte da fama fica por nossa conta. Queremos merecer o direito à fama. A obrigação de vocês é exclusivamente vender discos, mais nada.”


Você é famoso por ser um defensor ferrenho do analógico sobre o digital. Ao mesmo tempo, é um símbolo do faça-você-mesmo, e a distribuição digital da música hoje é uma das principais ferramentas para quem quer se conduzir de forma independente. Como você se vê, no meio disso tudo?
Eu não tenho nenhum problema com o compartilhamento de arquivos. Na verdade, eu acho bem legal que as pessoas compartilhem músicas umas com as outras. É uma extensão natural da mesma mentalidade que eu tinha na adolescência, quando gravava uma fita cassete e dava a alguém, ou quando escrevia algo num fanzine ou coisa do tipo. É exatamente o mesmo paralelo, o mesmo impulso: eu conheci uma coisa, gostei dela, quero dividir com os outros. É perfeitamente natural, normal e bacana. A grande indústria musical está aterrorizada porque não entende como tirar dinheiro disso. Mas, se você analisar historicamente, sempre aconteceu algo para mudar a distribuição da música. No início, os músicos eram empregados da corte, contratados para entretenimento. Quando as pessoas começaram a anotar músicas em papel, de forma que elas pudessem ser tocadas por outros, esses músicos da corte ficaram aterrorizados: “Eles podem tocar nossas músicas! Isso é terrível!” O que aconteceu foi que mais pessoas passaram a ouvir música, desenvolveram gosto musical, e cada comunidade pôde ter músicos profissionais. Em vez de ser um privilégio da realeza, a música estava agora por toda parte. Mais tarde, as empresas que controlavam a distribuição de partituras – de forma que, para ouvir música em casa, você se sentava ao piano e tocava uma canção popular a partir de uma partitura – ficaram apavoradas quando o piano mecânico surgiu: “Oh, não! Ninguém mais precisa das nossas partituras! É um desastre!” Mas, claro, o que aconteceu é que ainda mais pessoas puderam ouvir música. Gente que não havia aprendido a tocar piano podia agora ouvir música em casa. Isso tornou a música mais popular, e fez mais gente se interessar por ela, tornando possível o crescimento de orquestras civis, o surgimento de líderes de bandas, de grandes turnês, porque havia uma agitação em torno da música novamente. Quando o rádio surgiu, os palcos de vaudeville e os líderes de orquestras ficaram em choque: “Oh, não! Se as pessoas puderem ouvir as bandas em casa, pelo rádio, elas não virão mais aos bailes! É o fim!” E o que aconteceu? Mais pessoas passaram a gostar de música, e os bailes explodiram. Todo mundo podia ligar o rádio em casa e ouvir, por exemplo, Cab Calloway e Banda: “Que banda fantástica, vamos lá dançar!” Ou seja, todo o conceito de que a música vem sendo roubada é baseado nessa idéia maluca de que, se as pessoas gostam de música, isso de alguma forma é ruim para o mercado musical (risos).
E você acha que melhorou para as bandas?
Hoje em dia há bandas com um número relativamente pequeno de fãs – duzentas, trezentas pessoas em cada cidade -, mas elas têm acesso direto a essas pessoas no Brasil, no Japão. Nos anos 70 e 80, se a sua banda tocasse para duzentas pessoas em Chicago, talvez vocês fossem desconhecidos em Nova York, e certamente ninguém conheceria vocês em Londres. Mas agora talvez você tenha cem pessoas em Chicago, cem em Indianapolis, cem em Nova York, cem em Londres, cem em Belgrado, Iugoslávia (interrompe, perguntando ao repórter e a um técnico do estúdio que assiste à entrevista: Caramba, onde fica Belgrado, agora? Macedônia? Bósnia? Sei lá. Elovênia? Sem resposta convincente, conclui, rindo: Bom, é num desses lugares que costumavam se chamar Iugoslávia.) Enfim, agora é possível, com uma audiência pequena, ter influência mundial. Antes, era preciso enviar seu disco pelo correio, ter alguém no rádio promovendo sua banda, um escritório ou algo assim. Agora, qualquer um pode fazer isso. Se você tem uma página no Myspace ou um laptop, seu mundo se alarga imediatamente. Particularmente, eu acho isso tudo bem legal.
Eu li recentemente que algumas pesquisas têm apontado um desinteresse público em relação à opinião e ao trabalho de especialistas. No seu caso, você teme que a radicalização do faça-você-mesmo na música possa afetar o seu trabalho?
Há algumas coisas superficiais a respeito da especialização. Por exemplo: (em Chicago) os barbeiros fazem parte de uma união, de forma que há um número limitado de licenças, para que haja um número limitado de salões, e assim todos os barbeiros possam ganhar a vida. Mas, vamos admitir, cortar cabelo não é algo tão difícil. Quase todo mundo é capaz de cortar cabelo. Talvez não fique perfeito, mas qualquer um pode fazer. Ou seja, é uma forma artificial de especialização. Mas eu vou ao barbeiro assim mesmo, e pago um extra a ele porque ele trabalha bem. Acredito que na maioria das vezes em que você escolhe um especialista, faz isso porque ele realiza seu trabalho de forma única. Há outros barbeiros na cidade, e eu já cortei com outros, mas eles não fazem um trabalho tão bom, então eu não vou lá. Mas vale a pena pagar US$ 25 para o cara que entende o meu cabelo: eu só vou lá duas vezes por ano, e o dinheiro que gasto é insignificante. Mas eu gosto que seja bem feito. Ter um estúdio de gravação é mais ou menos a mesma coisa. Gravar em um estúdio profissional é um empreendimento muito caro. Se você vai fazer isso apenas uma vez na sua vida, o gasto é justificado, mas, se você passa muito tempo gravando discos, pode acabar ficando bom, e aí não precisa de um especialista. Acho perfeitamente compreensível. Se o disco será a realização do trabalho de sua vida, aí você vai querer levar mais a sério e pode gastar algum dinheiro com isso. Se é só algo casual, que você faz com seus amigos, e você não leva tão a sério, provavelmente você não deva ir a um estúdio profissional, gravar com um especialista. É melhor fazer de forma barata, em casa, para não gastar com algo que não é tão importante para você.

Vários produtores (nota: Albini faz questão de ser creditado como “engenheiro de som”, não como produtor) cobram um valor bem mais alto para gravarem, muitas vezes exigindo até royalties dos discos vendidos.
Eu acredito que isso aconteça, mas nunca trabalhei assim, então não sei como funciona. Eu sei que tenho bastante experiência, faço isso há bastante tempo, e sempre que você trabalha com um profissional experiente, vai gastar mais do que se trabalhar com um novato, ou com um amador. Vai sair mais caro. Mas eu também penso que não é uma diferença imensa, é uma pequena diferença. Eu tenho mais experiência, gravei muitos discos e sei como resolver vários problemas. Há algumas vantagens. Temos uma equipe, pessoas que precisam ser pagas. Então, há razões para ser mais caro, mas acho que isso não importa muito para quem vai pagar. A pessoa só está preocupada com quanto vai custar, e se há como gastar menos. E acho que, em muitos casos, sim, você pode gastar menos, sem problema.

Voltando ao Fugazi: você acha que musicalmente eles são uma influência forte no estilo de outras bandas?
Há alguma influência, mas não acho que seja significativa. O estilo musical de um grupo é algo que os membros escolhem e decidem por si próprios. O resto das decisões, como a forma de conduzir a banda, os temas das músicas, a forma de se comportar no mundo, a forma de interagir entre si no palco e fora dele, isso tudo é muito mais importante do que o estilo musical. Mesmo porque estilo musical é algo temporário, pode variar de uma música para outra. Não me importo muito com isso.
Você tem algum disco favorito deles?
Eu não penso no Fugazi como uma banda de discos. Para mim, eles são como um espectro de uma centena de músicas.
Você gravou uma versão para o disco In On the Kill Taker. Essa versão acabou sendo descartada pelo Fugazi e nunca foi lançada, mas acabou vazando para a internet. A Dischord tem pedido aos blogs que disponibilizam essa gravação para tirá-la do ar. Qual a sua posição a respeito?
Eu não ligo para isso. Quanto à Dischord, o material é deles, pagaram por isso e é claro que têm o direito de dizer “por favor, tirem do ar”, mas eu, pessoalmente, não ligo. Fiz uma sessão com o Fugazi, cuja intenção era fazer uma experiência, e foi uma experiência. Eles gravaram a maior parte do disco – originalmente, eles iriam gravar algumas músicas, mas no final fizeram uma espécie de fita demo estendida do disco completo – e, quando voltaram a Washington, decidiram: “Não ficou muito bom, vamos fazer de novo.” E fizeram de novo. Não vejo nada errado nisso. Como discutimos, eu acho que o Fugazi tinha experiência suficiente em estúdio para comandar suas gravações. Por isso, fizeram eles mesmos. Acho uma atitude perfeitamente digna. Não sei exatamente como foi o processo de decisão, mas não me preocupo nem um pouco. Passei cinco dias com eles naquela sessão. Aproveitei cada minuto. Foi uma grande experiência, por que iria me preocupar com o destino dessas fitas?
E como fã, qual era sua relação com a música do Fugazi?
Eles eram uma grande banda. Vi o show deles algumas vezes, dez ou doze talvez. Todos foram incríveis. Nos primeiros quinze minutos, você acha que está vendo a melhor banda do mundo, e a melhor banda da história. Nos 45 minutos seguintes, você se convence de que é um dos melhores shows que já viu na vida. Na segunda hora, começa a se sentir meio cansado, aí fica com vergonha, tipo: “Como posso estar cansado num show incrível desses?” Aí, na última meia hora, você só quer que aquilo acabe, pra poder voltar pra casa (Risos).
Tocar com o Fugazi também é demais. Como banda de abertura, você é tratado muito bem, pode usar todo o PA e tal. Também é certeza de casa cheia, com platéia receptiva. É uma experiência muito especial mesmo. E eles são pessoas incríveis pra ter por perto. É diversão na certa.

 A partir de agora, só há duas regras: a) ninguém é de ninguém; e b) não vale dançar sozinho. Basta entrar na muvuca para sentir as mãos da garota logo atrás, ou a bunda da garota logo à frente. Em duplas ou sozinhas, elas sobem nos balcões ou nos sofás e provocam os rapazes, com passos que desafiam o sentido do verbo insinuar. Embaixo, uma delas se reveza entre rebolar na virilha de dois garotos. Num pilar mais afastado, um casal se diverte em coreografias pervertidas. A temperatura sobe mais ainda com os gritos de guerra de Hollywood Holt, MC convidado e outra estrela da cena juke. De cima do pequeno platô onde ele se espreme entre as pickups do Flosstradamus, entoa gritos de guerra sem parar, comandando um grupo de garotas do south side que acompanha o duo em todas as festas. Chicago é uma das cidades com maior número de mulheres solteiras nos EUA – elas superam eles em impressionantes 100 mil corpos, segundo uma pesquisa da revista National Geographic. Esta noite, elas parecem ter vindo todas ao mesmo lugar.
A partir de agora, só há duas regras: a) ninguém é de ninguém; e b) não vale dançar sozinho. Basta entrar na muvuca para sentir as mãos da garota logo atrás, ou a bunda da garota logo à frente. Em duplas ou sozinhas, elas sobem nos balcões ou nos sofás e provocam os rapazes, com passos que desafiam o sentido do verbo insinuar. Embaixo, uma delas se reveza entre rebolar na virilha de dois garotos. Num pilar mais afastado, um casal se diverte em coreografias pervertidas. A temperatura sobe mais ainda com os gritos de guerra de Hollywood Holt, MC convidado e outra estrela da cena juke. De cima do pequeno platô onde ele se espreme entre as pickups do Flosstradamus, entoa gritos de guerra sem parar, comandando um grupo de garotas do south side que acompanha o duo em todas as festas. Chicago é uma das cidades com maior número de mulheres solteiras nos EUA – elas superam eles em impressionantes 100 mil corpos, segundo uma pesquisa da revista National Geographic. Esta noite, elas parecem ter vindo todas ao mesmo lugar.